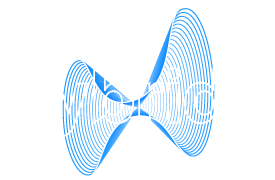Bom, first things first, eu sempre adorei a premissa da série baseada no romance homônimo de Philip K. Dick e adaptada para o Prime inicialmente por Frank Spotnitz e Ridley Scott. Com o destino do mundo ameaçado pela repetição de erros cometidos em um passado não tão distante assim, é incrível ter os recursos visuais que mostram um mundo onde os países do Eixo teriam vencido a II Guerra Mundial depois de jogar uma bomba atômica em Washington, DC. Com a vitória, Os Estados Unidos da América deixam de existir e seu território é dividido entre a Alemanha (Leste) e o Japão (Oeste), com as Montanhas Rochosas de divisa (Zona Neutra).
Produção Primosora
O episódio piloto é um dos melhores já produzidos para o gênero. A abertura, com grandes símbolos americanos na sombra da iconografia nazista e ao som de Edelweiss faz muito mais do que dar o tom: é de tirar o fôlego. O grande mérito – não apenas do piloto mas de toda a primeira temporada – é justamente a constante e indigesta provocação. Ao mostrar que – passado o impacto inicial – podemos aceitar com determinada normalidade um mundo cruel, tirânico e atroz em nome da estabilidade econômica e em troca da nossa própria segurança pessoal, a obra se torna indispensável para a atualidade.
The Man in the High Castle Intro Credits
Opening credits for Amazon’s hit show The Man in the High Castle based on a Philip K Dick ‘what if’ novel. In an alternate history what if the Nazis beat the Allied forces and took over the USA?
A proposta de mostrar uma sociedade americana totalmente adaptada tanto à autoridade alemã quanto à sobriedade japonesa é fascinante e cada detalhe da produção faz com que tal realidade seja facilmente crível. A estética é ao mesmo tempo óbvia e inquietante, fruto de uma fotografia privilegia os tons cinzentos e, assim, destaca sem fazer força o vermelho sangue da iconografia nazista. A cenografia e produção de arte foram detalhadamente pensadas para retratar uma cultura completamente diferente, mas criada de forma inteligente a partir de elementos familiares. Como não existem mais bandeiras americanas, por exemplo, vemos suásticas estendidas tradicionalmente à frente das casas dos subúrbios.
“E Se…”
Um belo ponto a se destacar é que, fora do núcleo extremo dos nazistas alemães, a obra não estabelece uma divisão clara e óbvia entre o bem e o mal. Foi possível identificar momentos de humanidade mesmo vindos dos grandes vilões como o alto oficial do Partido Nazista Americano, John Smith (Rufus Sewell), ou o Inspetor Chefe japonês em São Francisco, Takeshi Kido (Joel de la Fuente). Estes são alguns exemplos de como a série foi feliz em nos garantir vários personagens complexamente desenvolvidos. Infelizmente a única personagem estranhamente rasa é justamente a protagonista, Juliana Crain (Alexa Davalos). E piora no decorrer das temporadas: na última, seu papel se reduz ao de uma coadjuvante de luxo.
Por outro lado, o grande problema é que o “what if” de Philip K. Dick, após mostrar brilhantemente a que veio, se abriu em possibilidades infinitas e arcos dramáticos que facilmente confundem o espectador. Muitas vezes fica complicado acompanhar as reviravoltas que se apresentam – sem falar dos agentes-duplos – e em algum momento, no meio da segunda temporada, não temos a menor ideia de para onde estamos sendo conduzidos.
Drama x Ficção Científica
A narrativa volta a se organizar na 3a temporada, quando conseguimos entender que os misteriosos e emblemáticos filmes que movimentam a trama retratam todo um multiverso possível além daquela realidade. Fica clara a ameaça da existência destes universos alternativos ao status quo imposto pelo Terceiro Reich na forma de possibilidades que podem significar simplesmente “esperança”. Fica clara também que a ambição nazista não se satisfaria com a supremacia em apenas uma realidade. Se depois de derrotar os Aliados na guerra os alemães logo se voltam contra o Império Japonês (supremacia ariana, pois), nada mais natural do que ambicionar impor-se também no multiverso.
A quarta temporada chegou enxuta, bem mais objetiva (o máximo que uma distopia que envolve realidades alternativas pode ser) e conseguiu responder boa parte das perguntas a que se propôs. Com o fim do drama Juliana Crain versus Joe Black (Luke Kleintank) – trama que acabou se revelando deveras inútil – todos os holofotes se voltam para o sensacional John Smith. Não sei dizer se foi proposital, mas o personagem de Rufus Sewell se apropriou, gradativa e irreversivelmente, da narrativa. Foi o seu arco dramático – em paralelo com o da esposa Helen Smith (uma interpretação maravilhosa de Chelah Horsdal) – o responsável por nos fazer refletir sobre as melhores e piores “versões de nós mesmos”.
Mudança de Protagonista
Os episódios finais refletem exatamente o dilema dos showrunners de tentar amarrar todas as pontas soltas. Muitos arcos foram sim concluídos, mas ficamos com a sensação de que poderiam ter sido um tanto melhor desenvolvidos. Se esse foi o caso do maravilhoso e complexo arco de John Smith – que dominou a narrativa na última temporada – imagina para os demais. O pior caso foi o da Revolução Negra Comunista, que ganhou força apenas na última temporada quando poderia ter protagozinado uma narrativa melhor explorada.
Foi justamente nesse núcleo que se deu um dos momentos mais preciosos da série e que, no entanto, pode passar como despretensioso. O que os Estados Unidos teriam efetivamente feito pela comunidade negra antes da ascensão do Reich? Com a responsabilidade de propor uma nova nação, “retomar” a velha América, tal qual era, seria uma possibilidade? Que linda e pertinente (e, acima de tudo, atual) é essa reflexão!
Eu queria muito falar sobre toda a reflexão provocada pelos episódios finais de O Homem do Castelo Alto mas é impossível fazer isso sem spoilers. O destino do Império Japonês é surpreendentemente bem conduzido, por exemplo, mas não dá para escrever mais do que isso. No mais, assistir a conclusão dessa obra em meio aos acontecimentos do ano de 2020 mexeu demais comigo e acredito que deva mexer com muita gente. É Impossível ver Helen Smith admitir que seguia as instruções do Partido sem questioná-las porque “simplesmente lhe parecia o certo” sem sentir um soco no estômago.
Finalizando, sabemos que distopias tendem a deixar seus finais abertos à imaginação do espectador – ou mesmo do leitor. O problema é que a cena final de “Fire from the Gods” acaba deixando mais perguntas do que respostas. A prova disso foi a explosão das publicações do tipo “entenda o final de” que se seguiram à exibição do episódio. A mim, pareceu um final “preguiçoso”. Mas sigo recomendando a obra, enfim, pois toda reflexão provocada deve ser incentivada.