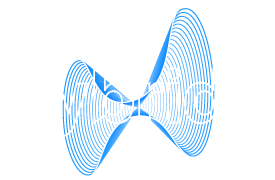Onde: Cinemas
Não precisa ser um cinéfilo muito aficcionado para entender qual era o interesse de Chad Stahelski aqui nesse novo ‘John Wick: Baba Yaga’, a despedida (?) de uma das séries mais surreais dos últimos anos. O ‘zeitgeist’ particular, que já foi muito despretensioso, pulou para a criação de um universo e se expandiu para um conceito high-tech de modelo de cinema de gênero, prepara um adeus (?) retrocedendo à História; a do Cinema, ao menos. A inspiração de seu diretor, um ex-coordenador de dublês que virou um ás da experimentação da linguagem, aqui são os primórdios clássicos, que provavelmente são o que possibilitaram a criação de alguém como John Wick, hoje. A abertura e o encerramento, com diferentes estágios de posicionamento solar, em crepúsculo esplendoroso, deixa claro que o faroeste está correndo nas veias metafóricas de suas imagens.
John Wick, ora pois, sempre foi um cavaleiro solitário buscando resolver injustiças (animais e humanas), pedindo para ser deixado em paz, mas constantemente tragado para um mundo de violência ininterrupta moldada antes dele. Seu legado é se colocar em pé de igualdade a tantos John Waynes e Clint Eastwoods, seus avôs de ofício, mas irmãos de empreitada. Não é como Stahelski estivesse descobrindo essa vocação hoje, porque ela nunca foi misteriosa; sua ligação com o oeste bravio da cultura estadunidense – aqui, cada vez mais global – enfim se torna imageticamente referente. É como se a narrativa enfim encontrasse o veículo, que demorou a se moldar como tal, porque somente agora há a maturidade de conclusão de seus propósitos em ecrã.
Assim como a mitologia que criou, ‘John Wick: Baba Yaga’ uma vez mais testa os limites da compreensão de cada retina assolada por imagens que vão além da suspensão da descrença. Essa exigência foi feita a algumas edições, o que está em cena aqui não pode ser classificado com palavras vãs; pintura, talvez. Muita leviandade seria também cobrar uma lógica práxis de roteiro a uma obra que é pura miscelânea dos sentidos. Vejam bem: há roteiro na série, e aqui ele não se ausenta, mas há uma presunção do que é uma estrutura escrita, como só o que é exemplarmente dialogado ou de fácil catalogação qualitativa quanto a sua temática tivesse um esqueleto. Mas é o no campo do plano, da matéria fílmica, do sentido mais amplo da janela cinematográfica que a obra é constantemente expandida em suas possibilidades.
Assim como temos cada vez contato com a totalidade da Alta Cúpula, seus entroncamentos através dos Continentais pelo mundo, vemos também o próprio John Wick reencontrando símbolos caros a ele, como o cachorro que pertence ao personagem de Shamier Anderson – excelente aquisição à marca, diga-se. Não é como se ‘John Wick: Baba Yaga’ fosse um resumo da ópera, mas sim uma revisitação ao que vimos até então, em caráter 4.0, um turbo non-stop. Mas, ainda que já saibamos das infinitas capacidades de esteta de Stahelski, o que é feito e visto nesse quarto episódio ultrapassa a compreensão. Não exclusivamente por alcançar um patamar de gigantismo não visto anteriormente, mas de como conduzir essa expansão ao limite do sublime.
O estranho com nome
Não é nenhum exagero afirmar que o diretor conduz a mais bonita, bem fotografada e artisticamente adequada realização de gênero (ação, no caso) desde o que George Miller fez em ‘Mad Max: Estrada da Fúria’. É um caso raro onde um trabalho de mise-en-scene mesmeriza em igual comparação a feitos entre campos mais compreensíveis de excelência, ao menos entre a cinefilia menos propensa a repensar conceitos de produção. Stahelski não fica nada a dever ao que grandes artistas da tela já fizeram, e trabalha de maneira crescente suas conquistas estéticas. Se existe algo que poderia diminuir o foco de apreciação de algo tão esfuziante quanto ‘John Wick: Baba Yaga’, é a sua duração, não simplesmente por beirar as três horas, mas porquê seu conceito poderia estar intacto com meia hora menos, sem qualquer perda de interesse, ritmo ou qualidade. Vejam bem, não há decréscimo de potência na obra, apenas a consciência de que uma ou outra sequência, ainda que espetaculares, cabem aqui como em qualquer outra edição.
Ainda assim, ou mesmo assim, há encantamento acontecendo de maneira explícita em ‘John Wick: Baba Yaga’, e se por toda a duração esse sentimento é palpável, os cerca de 45/50 minutos finais conseguem o que poucas vezes se vê, em grande parte dos filmes. É como se Stahelski propusesse, a si mesmo e ao espectador, o desafio de subir constantemente o sarrafo a cada novo momento. São um grupo de 5 ou 6, cada um com uma duração de uns 10 minutos em média, onde só falta nevar dentro da sala de cinema; todo o resto, literalmente não falta. E repito, independente de emocionalmente serem sequências de profundo impacto emocional (a sensação de falta de ar em mim foi constante), estamos diante de um coletivo de imagens nunca menos que das mais bonitas que o cinema de ação já produziu.
Seja na rotatória parisiense, na invasão à mansão abandonada, a montanha que precisa ser escalada disfarçada de escadaria infinita, até o cume de nossas forças em um duelo como só filmado há 70 anos, ‘John Wick: Baba Yaga’ nos faz chorar, quase copiosamente. Porque não tem vergonha e nem quer deixar de ser um produto de entretenimento dos mais puros em sua essência, como não diminui seu potencial por entender que o público massivo não precisa ter oferta de baixa qualidade somente por preferir um cinema mais direto. Chad Stahelski nos deixa mais uma vez claro o que profissionais como Jordan Peele, M. Night Shyamalan, Christopher McQuarrie (na ala jovem) e os já citados maduros – e como não adicionar Steven Spielberg? – nos ensinam a cada nova obra: a construção da imagem de potência fantástica é assinatura autoral como qualquer outra. E, efetivamente, estarão nelas campos de reflexão para debates da historiografia do Cinema onde, muitas vezes, uma Palma de Ouro naufragada jamais chegará.