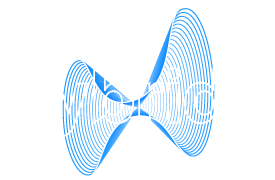Onde: Netflix
Olivia Colman encarna a sedutora Lena, uma professora acadêmica com um passado nebuloso que tira férias em uma ilha Grega. Em meio a uma paisagem paradisíaca, aborrecimentos começam a invadir suas férias e logo passamos a conhecer sua história. Maggie Gyllenhaal faz uma potente estreia na direção desse drama psicológico que analisa a complexidade feminina perante a sociedade patriarcal. Não à toa, o filme vem reverberando de maneira justificadamente fugaz ao tocar em questões ainda desconfortáveis e resguardadas.
Em uma leitura superficial de “A Filha Perdida”, o filme poderia ser descrito como uma análise entre o limiar da mulher – o balanço entre sua existência maternal e individual. Entretanto, o filme se aprofunda de forma crua e visceral na questão do papel da mulher perante uma sociedade patriarcal na qual a maternidade é algo implícito à feminilidade.
E vai fundo na provocação de que tal “obrigação feminina” na verdade pode ter preços elevados, ao minar o “eu” individual de forma irreparável, causando grandes consequências a todos os envolvidos. Essa análise é predominante no filme ao passo em que a própria personagem, através de flashbacks muito bem moldados, ora mostra traços de culpa, ora de reafirmação de sua conduta, como se fosse algo inevitável – a reverberação de sua essência.
Vemos o instinto de preservação de autonomia como indivíduo sendo discutido no decorrer do filme, seja quando a professora se nega a mudar sua cadeira de lugar, ou ao descascar uma laranja de forma contínua, sem quebrar a casca, ressaltando: “não pode quebrar”, em um belo simbolismo da tentativa de se manter íntegra perante ao caos da existência humana.
A diretora segue sua provocação ao levantar a discussão acerca de como mulheres sozinhas são julgadas como irrelevantes ou solitárias e nunca fortes, autossuficientes. Na verdade, a autossuficiência é vista com crueldade sob os olhares julgadores, a exemplo da família americana populosa que cruza o caminho da professora, e seus julgamentos com relação a ela.
A escritora Jacqueline Rose, em seu livro “Mães: um ensaio sobre amor e crueldade”, pontua bem a questão abordada no filme, quando diz: “A maternidade é o lugar em nossa cultura onde alojamos ou melhor enterramos a realidade de nossos próprios conflitos, do que significa ser plenamente humano. É o bode expiatório final para nossas falhas pessoais e políticas, para tudo o que está errado com o mundo, que se torna a tarefa irrealizável – claro – das mães para recuperar”.
Maggie Gyllenhaal explora o arco das personagens através da empatia. Ainda que se possa discordar de qualquer ação, há empatia sempre presente na construção de cada uma delas, não havendo espaço para julgamentos, perante a integralidade e complexidade humana.
Nesse sentido, temos em foco uma protagonista complexa e mais humana impossível, que age e se retrai com a mesma impulsividade, em um misto de doçura e crueldade, ressaltando a ambiguidade humana. O filme é um acerto indiscutível de direção e fotografia, mas sua relevância se traduz na coragem de colocar em pauta assuntos imprescindíveis e ainda tão raramente discutidos.