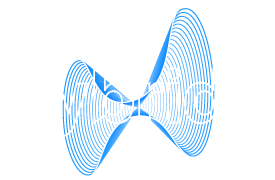Onde: Mubi, Mostra SP, Cinemas em dezembro
Ótimo filme. Não é mesmo para qualquer pessoa. Indicar? Não sei. Eis aqui o vencedor da Palma de Ouro, em Cannes, nesse ano ainda aterrador. Segundo longa de uma diretora que gosta de impactar e provocar muitas discussões. Julia Ducournau faz filmes a fim de que você não esgote sua experiência ali ao final da obra, porém o processo até tal final é penoso. Após ter visto seu último filme, “Raw” (2016), bem controverso e profundo, já esperava pelo momento em que ela me alvejaria. Basta um olhar apurado para a primeira cena chocante do filme, num salão com lindos carros, que a filosofia já explode em sua mente. A vontade de conversar com alguém e querer saber o que Julia quer ali é imensa.
Num primeiro momento, é posta razoavelmente à luz a intenção da diretora de tocar em temas como paternidade, laços familiares, afeto, amor não correspondido, aceitação e socialização; mas ela também flerta de maneira bizarra, munida de “body horror” e um pouco de “gore”, com o estranho, com aquilo que a sociedade não aceita, com algo que pode ser olhado de maneira preconceituosa no nosso novo mundo. O jeito de se expressar é único. A forma subjetiva de filmar os opostos é fantástica e incomoda o espectador. Tente não desviar seu investimento visual em todo aquele néon sugestivo que nos impulsiona para qualquer tentativa de humanização de Alexia.
A menina Alexia sofre um grave acidente de carro com seus pais e precisa colocar uma placa de titânio puro na cabeça para sobreviver. Já adulta, seguimos a agora misteriosa Alexia, que se tornou dançarina famosa na noite francesa atraindo uma legião de fãs ambíguos, fascinados de fato por sua sensualidade. Vale dizer que a mulher da placa de titânio desenvolveu um fetiche por carros ridiculamente paradoxal. A vida dela cruza de maneira bizarra com um bombeiro experiente que teve o filho desaparecido faz 10 anos. A partir daí, a alegoria de Ducournau fica cada vez mais interpretativa, sugestiva e fascinante.
É impossível não tentar comparar sua obra ao horror de David Cronenberg em “Crash” (1996). A sugestão da diretora para que possamos aceitar o controverso, o disfuncional, e talvez o ligeiro flerte com a diferença de gêneros é um soco na cara. E por que dói tanto? Porque de fato assuntos tão delicados como os que ela tenta abordar causam muitas vezes dor nas discussões comuns ou panfletárias da sociedade. E para erguer novas e sólidas ideias, Ducournau nos machuca.
Mas a forma em que a diretora nos liga a personagem principal ao bombeiro que perdeu seu filho é um deleite de amor. Sequer conseguimos nos importar com os assassinatos em série que permeiam a obra, tamanha a imersão na desconstrução da aficcionada por carros. Há também a incrível elevação de um homem que não quer envelhecer, falho, que quer amar, que quer ser útil, ser social, salvar vidas e ser salvo também. Excelente dupla: Vincent Lindon e Agathe Rousselle. Gráficos, viscerais, opostos e fisicamente atraídos. Laços se estreitam e se humanizam sobretudo. Ducournau consegue nos mostrar o amor que existe ali e que nunca havia tocado nossa Alexia.