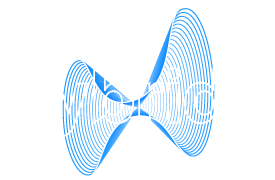Onde: AppleTv
São 9 episódios vorazes e sombrios. A vontade de devorar rapidamente esse intrigante Sci-fi é imensa. Senti isso em “O conto da Aia” (2017) e “Lost” (2004). A série original da Apple, criada por Dan Erickson e dirigida por um ótimo e imersivo Ben Stiller, é sem dúvidas a melhor obra televisiva de 2022. E vale observar todo trabalho novo que vier a ser comandado por Stiller. As ideias abordadas no livro “1984” (Geoge Orwell, 1949) também são bastante emuladas aqui. Em “1984”, tudo era feito cegamente a fim de atender aos interesses do Grande Irmão (Big Brother). “Ruptura” chega para atualizar o tema e polemizar o debate ao abordar questões existenciais e corporativistas – nada éticas – de maneira imersiva e intensa.
O convite à reflexão Orwelliana do ‘não-pensar’, do ‘não-raciocinar’, salta aqui como um terror psicológico numa distopia absurdamente real e atual. Dan Erickson realiza a comunicação visceral entre sua obra e a de Orwell de maneira inevitável e primordial. Aquele futuro laboral e corporativista já chegou de fato à nossa sociedade atual e nos machuca ver um show que mostra aquilo tão lentamente e com tão fácil compreensão. Choca. Se pensarmos bem, podem existir empresas que adorariam desesperadamente realizar o processo de ruptura, caso ele estivesse à venda ou fosse tangível. Como diz George Orwell, num conceito com fins empresariais, “o pensamento corrompe a linguagem” e “ortodoxia significa não pensar – não precisa pensar. Ortodoxia é inconsciência”. Perfeita filosofia cega laboral que serviria a um líder obscuro – o Big Brother.
Aqui em “Ruptura”, a manipulação de realidade em prol do trabalho é maquiada e sustentada como a interação perfeita para o equilíbrio entre nossa vida comum e nossa vida laboral. À primeira vista, seria o ideal. Questionar “o que fazemos?” chega a ser banal e desnecessário. Na fantástica trama de Ben Stiller, seguimos Mark, que trabalha numa corporação muito misteriosa e comanda uma equipe de funcionários curiosos, mas incrivelmente obedientes, cujas memórias íntimas e sociais foram separadas radicalmente das memórias profissionais em laboratório, de maneira cirúrgica. Lá eles são refinadores de macrodados. O que não quer dizer absolutamente nada. Criando-se assim duas personas de um mesmo indivíduo. Mark é interpretado por um ótimo e extremamente inocente Adam Scott. Contamos também com uma aula de atuação de Christopher Walken e John Turturro, como se estivessem no auge da carreira; além da vilã sensacional encarnada por Patricia Arquette.
O desligamento do vínculo entre suas duas “personas” é altamente benéfico para a companhia. Produtivo, causador de alto rendimento laboral, ausência de emoção com qualquer tipo de problema externo, realização unicamente de atividades ligadas à empresa. Como pode ser ruim? Mas a que custo? A série mostra que a escolha pelo processo de ruptura é deliberadamente espontânea, mas deixa claro que o funcionário desconhece os reflexos e as consequências de tal escolha. Aqui vemos na prática a maldade que realmente existe por trás da alegoria da bajulação no trabalho e do abuso do empregador para com o empregado. A série é altamente provocativa e gera no espectador tremenda aflição e inquietude, tanto que a cada episódio há um alerta ainda nos créditos sobre alguns efeitos em tela que podem causar distúrbios ansiosos.
A cirurgia da Dicotomia: Trabalho e Vida Social
Na psicologia de Carl Jung, estudamos a fundo a abordagem da criação de máscaras a fim de alcançarmos o nosso objetivo de sermos bem aceitos nas diversas camadas da sociedade. Essa criação de identidade e adaptação ao meio é basicamente uma definição bem simples do termo “Persona”, aplicado e analisado por Jung. O termo vem do teatro grego, em que se usava a máscara para ampliar sua voz. Aqui em “Ruptura”, há a criação deliberada de duas personas. O que é problemático e aterrorizante, pois na distopia da obra, uma persona não sabe da existência mútua da outra. Tampouco se sabe qualquer coisa sobre o trabalho ali realizado.
Na prática, é como se estivéssemos quase mortos por um período do dia. As tais duas vidas jamais se comunicariam. É sabido que têm uma vida lá fora, mas os funcionários moram num looping eterno da corporação, ora como se estivessem apenas dentro do trabalho, ora do lado de fora sem nunca de fato adentrar no ambiente da companhia, pois ao entrar, parariam de pensar. Bizarro. A semiologia está espalhada por toda a série, inclusive grita quando a personagem de Patricia Arquette – cegamente – trata de elevar o criador da empresa ao pedestal divinal, como se o idealizador da ruptura em prol do trabalho fosse uma espécie de Deus – Kier Eagan.
Há também uma intertextualidade com o comportamento Behaviorista do teórico Burrhus F. Skinner quando todo trabalho ali feito é condicionado pelo ambiente e é também recompensado e estimulado com migalhas chamadas de prêmios. Como ratos ganhando queijos em pequenas porções. A série lança informações de maneira lenta para que possamos montar nossa estrutura investigativa. E fica muito mais significativo este processo quando vemos os “eus” externos começarem a estabelecer algum tipo de conversa com os “eus” da companhia. O personagem de Yul Vazquez, Petey, é a força motriz aqui. É a chave para a inquietude. Ele sabe algo sobre a sombria empresa Lumen? Sabe o que é ser um refinador de macrodados? O que de fato ele conhece?
O terror técnico dos chamados backrooms
Vale destacar que a divisão das salas, visualmente falando, parece muito o tal backroom que invadiu a internet recentemente. Uma lenda urbana que consiste num emaranhado de salas, corredores intermináveis, um ambiente sombrio, enigmático e desconfortável. Apesar de termos em “Ruptura” a cor predominante branca e muito lavada, a tal lenda do backroom conta com um triste tom amarelo. Mas a noção de dualidade aqui é infinita e obviamente ela começa com a perfeição técnica do design de produção. As cores e ambientes fazem com que os personagens ali se isolem, se destaquem pela sua insignificância de certa forma, estão como animais a serem testados, insipientes, são objetos pequenos colocados numa escala imensa de instalações físicas.
Ben Stiller – nessa imensidão – logo dá o tom: até que ponto o proposto na trama poderia ser aceito? A invasão mental proposta é imensamente tóxica. Não se pode aceitar. Mas é muito bem descrita por Stiller. Machuca pensar na perda de nossa vida, quando conscientemente isso acontece.
Vale dizer que o estagiário obcecado e fascinado, um funcionário explorado, o trabalhador que não raciocina podem ser o desejo de muitos chefes hoje em dia, mas é algo impensável e que beira a maldade. Falta liderança e sobra a mão forte do senhor de engenho. Stiller mostra muito da visão bitolada e imersa do trabalho, como num mito da caverna de Platão. As muitas informações podem até cansar nossa mente no melhor sentido. Tal qual um ambiente de trabalho mesmo. Talvez seja bom anotarmos os prováveis rumos e teorias da série para que não nos tornemos experimentos laborais e de derretimento mental em nosso eu.